
Sobre consumo consciente, a escritora espanhola Ada Luz Márquez direciona reflexão aguçada: “Quanto menos preciso comprar, menos comprado me sinto./Quanto menos preciso consumir, menos consumido me sinto./Quanto menos preciso, mais livre sou”. O consumo consciente é um chamado para desapegar, mas não apenas de bens materiais. Para além de pesquisar cada etapa da cadeia daquilo que consumimos por desejo ou necessidade, há outra camada que antecede esta: aquela antes das coisas. Aquela que passa pelo nosso intelecto, pela nossa psique e pelas nossas sensações. Por que compramos? A quem queremos impressionar? De que parte de nós emerge um desejo por algo que nem sempre é tão necessário assim?
O bombardeio publicitário colabora decisivamente para a formação do consumo sob interesses mercadológicos principalmente. Para o senso comum, ser consumista é ceder aos impulsos de compra de coisas que não necessariamente precisamos. A propaganda comercial costuma explorar maciçamente a linguagem da sedução com o objetivo de fisgar o poder aquisitivo da população para as suas ofertas anunciadas. “Não existem palavras inocentes”, já afirmara, em meados da década de 1980, Luis Alberto Warat. Segundo ele, o espaço social onde as palavras são produzidas “é condição da instauração das relações simbólicas de poder. A dimensão política da sociedade é também jogo de significações. Isso supõe que a linguagem seja simultaneamente um suporte e um instrumento de relações moleculares de poder. Mas também um espaço de poder nela mesma. A sociedade como realidade simbólica é indivisível das funções políticas e os efeitos de poder das significações” (A ciência jurídica e seus dois maridos, 1985).
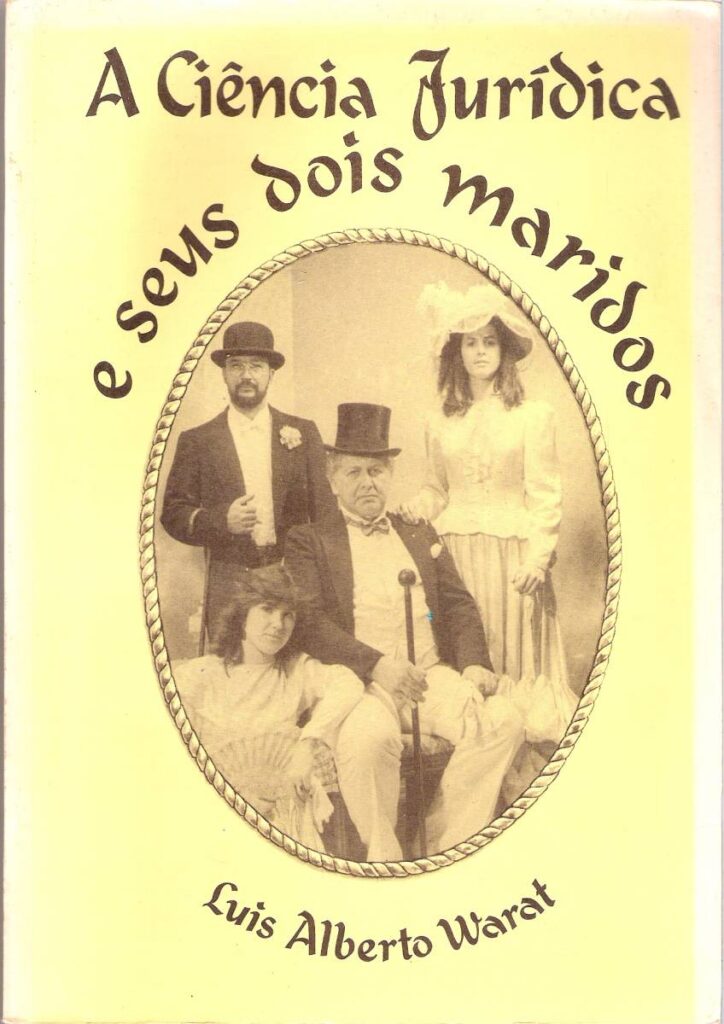
Numa sociedade disciplinar, toda a sociedade – com suas articulações produtivas e reprodutivas – é subordinada ao comando do capital e do Estado, tendendo, gradualmente, mas com uma continuidade inevitável, a ser governada apenas pelo critério da produção capitalista, para além das formas jurídicas e políticas que a organizam. Disciplinaridade é uma forma de produção e também uma forma de governo, levando a produção disciplinar e a sociedade disciplinar a coincidirem completamente.
Nesta sociedade-fábrica, subjetividades são forjadas como funções unidimensionais do desenvolvimento econômico. As regras de subordinação e os regimes capitalistas disciplinares são estendidos por todo o terreno social. A publicidade como ferramenta do marketing e, por conseguinte, do capital, buscaria, então, forjar as subjetividades como funções unidimensionais do desenvolvimento econômico, um dispositivo que, para além de informar e persuadir, visa ao disciplinamento dos sujeitos com o intuito de mantê-los dóceis e úteis, através de táticas diversas.
O tema é uma grande “questão” para a Antropologia do Consumo. A maior pergunta que podemos nos fazer é: qual é a medida que podemos levar em consideração para saber se somos consumistas? Diferente do consumo planejado, o consumismo desenfreado não é utilizado para sanar necessidades essenciais ou garantir conforto e qualidade. Causa transtorno nocivo a compra, quando feita sem necessidade e de forma excessiva, motivada apenas por impulso e desejo. A causa do consumo consciente entra em cena com responsabilidade social para trazer à tona o debate sobre o fenômeno do consumo alienado. Quando ele ocorre?
Criticamente, Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), em Eu, etiqueta (1984), destaca: “Por me ostentar assim, tão orgulhoso/de ser não eu, mas artigo industrial,/peço que meu nome retifiquem./Já não me convém o título de homem./Meu nome novo é coisa./Eu sou a coisa, coisamente”. Nesses termos, a relação capital, trabalho e alienação promovem a coisificação ou reificação do mundo. Desconsiderando seu estado emocional ou psicológico, o homem desumaniza-se e vira mero espetáculo a outros igualmente desumanizados. Concretizando uma subjetividade regredida e, por isso, fragilizada, consolida-se um sujeito da razão individual que tende à irreflexão e ao automatismo, a um estado de res, de coisa.
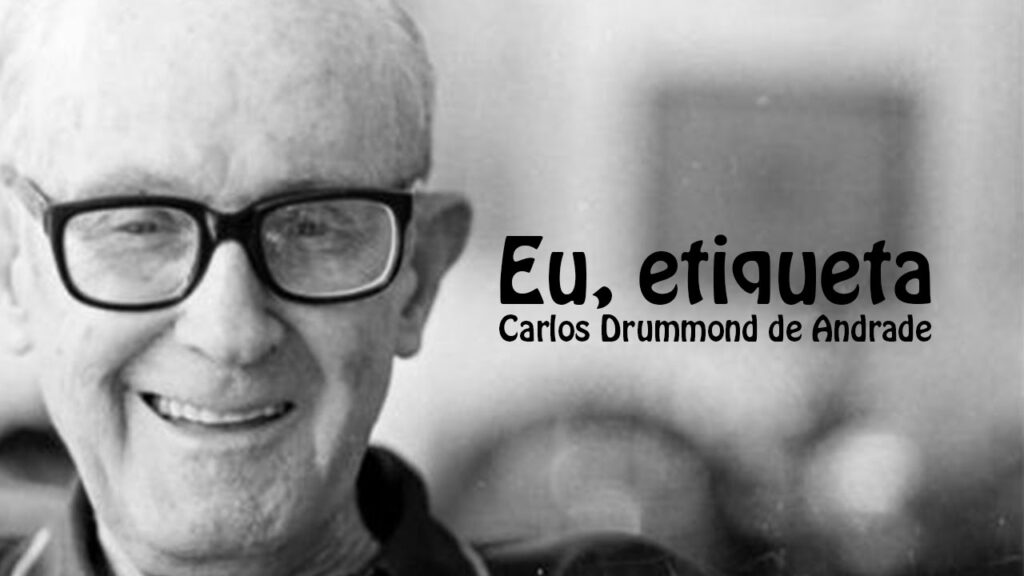
Nessa cultura hedonista em que os valores sonegados da subjetividade são pretensamente substituídos pelo valor agregado da posse de bens e serviços, a razão depara-se com a própria insuficiência frente à avassaladora pressão mercantilizadora de todas as dimensões da existência. No consumo consciente, a consciência antes, as coisas depois. Não à toa, o Ministério do Meio Ambiente adverte: “O consumidor consciente é aquele que leva em conta, ao escolher os produtos que compra, o meio ambiente, a saúde humana e animal, as relações justas de trabalho, além de questões como preço e marca”.
Na contramão da tendência imperante, a educação progressista contribui para a formação de uma consciência crítica e cidadã sobre os aspectos negativos da mercantilização. Em termos econômicos de utilidade e em termos políticos de obediência, o mundo da propaganda dissemina estímulos consumistas acatados pela sociedade sem juízo crítico. Traduzindo aspirações sociais dominantes, “o discurso publicitário disciplinar” afasta-se da tarefa instrutiva de orientar os seres humanos a fazer as melhores escolhas diante do cardápio variado de possibilidades realizadoras. O consumo consciente faz parte de uma série de esforços que favorecem os critérios de escolha voltados para aquisições mais imprescindíveis e menos supérfluas. O básico não pode faltar a ninguém – é bom que se diga –, e todos têm direito ao extraordinário, sem ostentações de cunho abusivo.
Marcos Fabrício Lopes da Silva*
* Doutor e Mestre em Estudos Literários pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (FALE-UFMG). Poeta, professor autônomo e pesquisador independente. Jornalista, formado pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).
